|
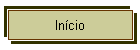
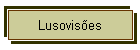
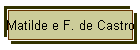
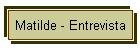
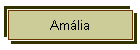
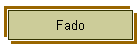
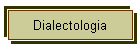
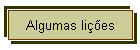

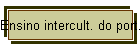
| |
Para uma leitura do fado:
Extraído de AA.VV., A Comunicação no Quotidiano Português,
Lisboa 1984, pp. 30-34.
 Os
diferentes códigos culturais Os
diferentes códigos culturais
(...) se aquilo a que chamamos realidade
não é senão «o conjunto dos códigos através dos quais se estrutura a cultura
considerada sob o ponto de vista da comunicação» e sem os quais «a realidade
nem sequer seria acessível, compreensível e nomeável»8,
então, e no que respeita ao fado, poderíamos falar em diversos códigos
culturais que presidem à produção e reconhecimento do seu universo
sígnico.
Um estudo semiótico-antropológico do fado numa sociedade complexa como a
portuguesa de hoje poderia, assim, incidir sobre as diferentes matérias
significantes e os vários níveis de codificação que operam no discurso
fadista. De entre os códigos culturais que estruturam esse universo sígnico
poderíamos enumerar, a título meramente exemplificativo, os seguintes:
Códigos
paralinguísticos:
estruturam a entoação vocal nas suas componentes de intensidade, altura e
duração. Independentemente das variantes do aparelho fonético, há uma
«paralinguagem» do fado. Por exemplo, nada mais culturalizado do que a chamada
«voz fadista», cujo estereótipo foi descrito por Ramalho Ortigão («voz soluçada,
quebrada na laringe»)9, Tinop
[«entoação febril e húmida de soluços (...) voz inclassificável, sui generis,
com modulações e inflexões não sujeitas ao jogo tirânico dos métodos de canto»]10,
ou por eruditos estrangeiros como Gallop [«the fadista (...) sings in the
curiously rough, untrained voice»]11.
De resto, muitas das «cantigas a atirar» têm por mote a «performance» do
fadista, medida em função da voz:
Venha o diabo à escolha
Não sei qual mais aprovar;
Que tu a cantar fadinhos
És mesmo um gato a miar12.
Códigos cinéticos:
respeitam aos movimentos do corpo. A gestualidade fadista tem muito também de
convencional e de ritual. A pose do fadista, por exemplo, está abundantemente
descrita: por Tinop (o fadista vemo-lo de preferência «sentado, cruzando uma
perna sobre a outra e inclinando desleixadamente o tronco sobre o braço da
guitarra que descansa na coxa, ou está levantado com o tronco caído
negligentemente para cima do quadril, a perna encurvada com o pé para fora, o
pescoço reteso como o de um galo a cucuritar, os olhos afogados numa agonia
suave enquanto vai beliscando os arames da banza») ou por Gallop («with head
thrown back, eyes half closed, ecstatic expression and body swaying slightly to
the rhythm of the music»).
Códigos icónicos ou visuais: referentes à percepção dos objectos.
Importantes para descodificar o interior duma taberna, um filme como A Severa
ou a decoração very typical duma casa de fados.
Códigos arquitectónicos:
a arquitectura pode ser considerada como uma linguagem que se apoia noutras
linguagens. Assim um signo arquitectónico denota uma função (espacial) que por
sua vez conota um outro significado (por exemplo, intimidade ou distancia
social). As «portas de bater» de certas tascas lisboetas teriam uma função
segunda de separar o espaço público (rua) do semipúblico ou interdito (às
mulheres e aos menores). As «meias-portas» (ou «aventais-de-pau») na maior parte
das ruas do Bairro Alto conotavam bordel nos finais do século XIX13.
O termo ficou, de resto, na moderna gíria da prostituição: «estar com o avental
de pau» é sinónimo de expor-se à janela ou à porta, prostituir-se14.
Códigos dos objectos: os objectos podem ser
analisados na sua sistematização objectiva (sistema funcional) ou subjectiva ou
simbólica (não funcional). Os pipos de vinho por detrás do balcão não denotam
apenas recipientes para o vinho, mas denotam também taberna, tasca, lugar onde
se bebe vinho.
Códigos do vestuário:
Códigos do vestuário: embora débeis, como os códigos dos objectos e
arquitectónicos, reestruturando-se em função da moda, não deixam de estar
presentes no traje do faia ou faiante (escreve Alberto Pimentel que «uma vaga
tradição alfacinha diz que o fadista se deu por orgulho de classe a designação
de faia, medindo-se vaidosamente com o aprumo e elegância da árvore deste
nome»)15. Ainda hoje temos
traços desses códigos (exemplo: o xaile preto, o boné de pala).
Ainda hoje temos traços desses códigos (exemplo: o xaile preto, o boné de
pala).
Códigos musicais: na perspectiva de Eco, não
há signos (inclusive os musicais) sem valor semântico. Assim, um som emitido
pela guitarra portuguesa afinada para acompanhamento do fado remeteria para uma
precisa posição num «campo culturalizado e organizado de outros sons»16.
Outros códigos: poéticos, linguísticos (como o
calão), etc.
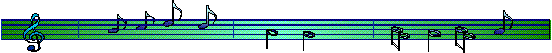
Notas:
8
Calzavara, Elisa, e Celli, Enrico, «Códigos culturales, lenguajes y
comunicaciones de masas: materiales para una aproximación
antropologico-semiótica», in Comunicación de masas: perspectivas y métodos,
Barcelona 1978, p. 110.
9 Ortigão, Ramalho, «O Fadista», As Farpas, vol. VII, Lisboa
1970r, p. 177-178.
10 Tinop (Pinto de Carvalho), História do Fado, Lisboa
1903, p. 83.
11 Gallop, Rodney, Portugal, A Book of Folk Ways,
Cambridge 1961, p. 246.
12 Apud Alberto Pimentel, A Triste Canção do Sul,
Lisboa 1904, p. 71.
13 Cf. Sousa, Avelino de, Bairro Alto — Romance de Costumes
Populares, Lisboa 1944, p. 58.
14 Cf. Pessoa, Alfredo Amorim, Os Bons Velhos Tempos da
Prostituição em Portugal (antologia organizada por Manuel João Gomes),
Lisboa 1976, p. 221.
15 Pimentel, A., op. cit., p. 45.
16 Eco, Umberto, As Formas do Conteúdo, 1971, trad. S.
Paulo 1974, p. 211.
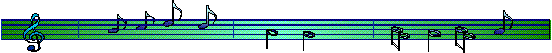
Bibliografia:
 |
COSTA, António Firmino &
Maria das Dores GUERREIRO – O Trágico e o Contraste. O Fado no Bairro
da Alfama, Dom Quixote, Lisboa 1984. |
 |
PAIS, José Machado
–
O enigma do "fado" e a identidade luso-afro-brasileira, Ler História
34, 1998, pp. 33-61. |
Webgrafia:
|